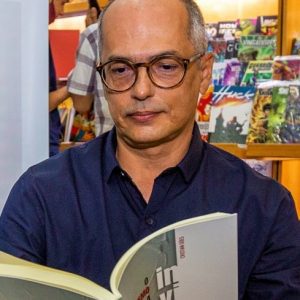No texto anterior (Lusofonias e obstáculos para a communitas) fizemos uma análise crítica de alguns obstáculos históricos que podem impedir que a ideia de lusofonia seja, de fato, um elemento potencializador da experiência de uma comunidade. E quando tratamos de comunidade, lembremos, temos recorrido ao conceito que foi trabalhado pelo filósofo italiano Roberto Esposito (2012), isto é, como uma communitas, e que também tratamos aqui em textos anteriores.
Para buscar aprofundar um pouco mais sobre as lusofonias, retomamos a discussão sobre a língua portuguesa, um dos pontos da crítica Eduardo Lourenço. Nesse quesito ele acaba por seguir uma mesma linha de análise que fora realizada por José Saramago, de que “não é Portugal ou os outros países lusófonos que falam o português, é a língua portuguesa que fala Portugal e esses outros países” (Lourenço, 2001, p. 189). Essa inversão de perspectiva é central.
Esse importante ensaísta português sustenta que nem a língua portuguesa nem língua nenhuma tem dono, sendo assim “uma invenção de quem a fala […] uma manifestação da vida e com ela em perpétua metamorfose” (Lourenço, 2001, p. 120-121). Por isso, em seu entender, a lusofonia não pode, nem sequer metaforicamente ser imaginada como espaço de uma portugalidade. Sobre a ideia de portugalidade sugiro a leitura do livro de Vitor de Sousa: “Da ‘portugalidade’ à lusofonia” (Editora Húmus, 2017), em que ele apresenta um profundo estudo sobre a construção da identidade em Portugal e que se espalha e também constrói uma parte considerável da ideia de lusofonia.
O fato é que Eduardo Lourenço (2001) apresenta uma consistente crítica contra muitas instituições, inclusive acadêmicas e geralmente de Portugal, que tratam a língua portuguesa como se fosse uma conquista, um legado premeditado que os portugueses deram ao mundo. Para ele, isso não passa de uma ilusão, de uma “miragem imperial”, de uma “obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu)” (Lourenço, 2001, p. 122-123).
Ainda sobre a língua portuguesa, esse autor afirma que, “da América à Ásia, cada povo que fala hoje o português a modelou, a recriou à sua imagem. Nenhum exemplo é mais relevante do que o Brasil. É um continente escrito em português, mas num português-outro, adoçado pela brisa dos trópicos, a música africana, o contributo de todos os que o destino aí levou ao longo dos últimos dois séculos (Lourenço, 2001, p. 132).
Curiosamente, apesar das críticas, esse e outros autores não descartam a possibilidade para que se tenha uma comunidade construída tomando-se por base a lusofonia. Aqui, reforço meu posicionamento de colocar lusofonias no plural. Entretanto, todos reconhecem, no que eu concordo e defendo, que o recurso às lusofonias somente se faz sentido se ela for radicalmente democratizada, isto é, que não tenha um centro fixo e irradiador.
Por exemplo, o próprio Lourenço (2001, p. 166) afirma que Portugal precisa reconhecer que sobre a lusofonia “os outros não a sonharão como nós” em razão de sua ampla diversidade. Assim, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pode ser reconhecida como comunidade se todos a vivenciarem como “portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana ou são-tomense” (Lourenço, 2001, p. 111). Aqui está a chave de leitura que aproxima as lusofonias da communitas: a diversidade das relações sociais e históricas tecidas entre nós, o seu povo.
Veja bem, não se trata de vislumbrar uma comunidade ideal, pronta e perfeita, delimitada e fechada em torno de uma estrutura linguística, mas de uma experiência viva e aberta que vai se tecendo exatamente no reconhecimento e no respeito às diferenças e às imperfeições, como um projeto inacabado, sempre em devir.
É muito incisiva a manifestação de Lourenço sobre esse aspecto que temos percebido como uma chave de leitura. Diz ele: “O apelo à lusofonia só tem verdadeiro sentido e, sobretudo, efeitos práticos se nos vier de fora. Quer dizer, se for uma palavra do outro, que pode falar ou fala português nós, mas que não tem a mesma memória cultural e não condivide conosco obrigatoriamente a mesma mitologia, porventura os mesmos valores. Ele tornou-se esse outro até pela recusa, metamorfose, ou nova interpretação da herança cultural que ia outrora na língua portuguesa (Lourenço, 2001, p. 192).
Também de forma crítica-propositiva, Moisés Martins (2015) analisa que os países lusófonos se encontram hoje do mesmo lado da barricada, como lugares dominados, com uma comum subalternidade e em permanente afastamento em direção à periferia da globalização hegemônica. Em um outro texto (2006, p. 81), esse mesmo autor defende que “a comunidade e a confraternidade de sentido e de partilhas comuns só podem realizar-se pela assunção dessa pluralidade e dessa diferença e pelo conhecimento aprofundado de uns e de outros”.
Diante desses pontos de vista, sugiro então que as lusofonias devem ser pensadas como um longo e histórico tecido em retalhos que, pelas tensões e relações assimétricas, vai sendo alinhavado, constituindo-se como comunidade. Porém, talvez o maior obstáculo para que essa costura se realize concretamente é não reconhecer a existência do espelho entre nós, de forma que não nos enxergamos como povos que utilizam a língua portuguesa como expressão de vida narrativa. Além de que não querer nos enxergar, lutamos, principalmente, para que esse espelho não reflita um Outro que é exatamente como nós, o “nós mesmos”.
Esse ponto de profunda rejeição fica evidente ao iluminarmos a possibilidade de uma mobilidade radical entre nós, os povos dessa comunidade. De fato, ainda não podemos dizer que habitamos em uma casa comum, sem limites, fronteiras, entraves. Lembra Quijano (2009, p. 113) que “a ‘corporalidade’ é o nível decisivo das relações de poder, porque o ‘corpo’ implica a ‘pessoa’”. O obstáculo do não reconhecimento, da rejeição e do combate à presença física do Outro é uma ação de poder que impede a experiência de uma comunidade. Entretanto é aqui que a língua portuguesa pode ser um elemento chave para aproximar e, não, para afastar.
A communitas e as identidades são, assim, um exercício permanente de batalha e que enfrentam, por um lado, forças centrípetas agindo para levantar muros, fechar as fronteiras e apagar o Outro. Por outro, mesmo diante da frágil institucionalidade e de uma lusofonia iluminada para dizer de um ilusório falar português, a possibilidade de comunidade pode ser um meio de expressão, o fazer falar dos povos angolanos, cabo-verdianos, galegos, guineenses, guinéu-equatorianos, moçambicanos, são-tomenses, timorenses e brasileiros mais pobres.
No próximo texto da coluna vamos analisar as forças centrípetas, principalmente dentro da própria órbita da lusofonia e que agem em sentido contrário da communitas. Refiro-me a existência dialética da immunitas. Enquanto a primeira nos implica ao dever, na obrigação, na dívida, na partilha recíproca, a segunda tem sentido contrário, de isenção, imunidade, desobrigação para com o Outro e para com todos.
Referências
Lourenço, E. (2001). A nau de Ícaro e a imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras.
Martins, M. L. (2006). A Lusofonia como promessa e o seu equívoco lusocêntrico. In: Martins, M. l.; Sousa, H. & Cabecinhas, R. (Eds.). Comunicação e Lusofonia – Para uma abordagem crítica da cultura e dos media. Porto: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e Campo das Letras, p.79-87.
Martins, M. L. (Coord.) (2015). Lusofonia e Interculturalidade: promessa e travessia. Braga: UMinho e Húmus.
Quijano, A. (2009). Colonialidade do poder e classificação social. In: Sousa Santos, Boaventura de & Meneses, M. P. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, p. 73-117.
Sousa, V. de. (2017). Da ‘portugalidade’ à lusofonia. Braga/Portugal: Húmus/CECS.