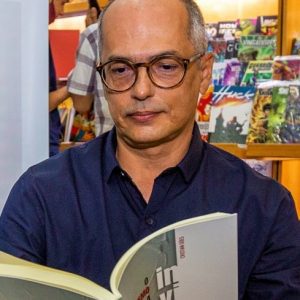Não há dúvida nenhuma que um idioma comum, ou mesmo parecido, é importante para a unidade de um grupo de pessoas de um mesmo lugar, Da mesma forma com povos que estão em espaços distantes, mas se reconhecem como próximos e estabelecem relações, tudo por conta da língua. Nesses casos, o idioma comum ou parecido é sinal de acolhimento, de segurança e até de alguma pertença.
A depender do grau do “comum” da língua, poderemos falar até mesmo em comunidade. Entretanto, para produzir sentido de comunidade, o idioma sozinho não tem essa força. Comunidade exige muitos outros elementos, além da língua. Assim, não é apenas o falar comum ou parecido que nos faz próximos, isto é, membros de um mesmo grupo de pertencimento identitário.
Em um documento onde a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) lembrou dos 18 anos que foi instituída, o idioma foi o grande destaque. Para essa entidade, os laços entre os povos que habitam os territórios que integram a CPLP são muito antigos e foram tecidos ao longo de mais de cinco séculos pela “língua portuguesa”. Segundo o texto de António Ilharco e Murade Murargy (2014), inicialmente foi a língua de navegadores, dos mercadores e dos missionários, e hoje o idioma oficial de nove membros dessa comunidade. Para a CPLP, o português é um patrimônio comum para mais de 250 milhões de pessoas, a quinta língua mais falada no mundo.
Não há discordância nenhuma sobre esse “patrimônio”, ao contrário, mas é preciso considerar outros aspectos.
Antes mesmo do fim da relação metrópole/colônia, o que aconteceu tardiamente no final do século XX entre Portugal e países africanos, intelectuais portugueses e brasileiros vinculados às estruturas do poder oficial de seus países, utilizaram-se da imaginação dessa unidade linguística para defender a necessidade de se criar uma instituição que circundasse o mundo lusófono. No fundo, o que se queria era manter uma ilusão de um Portugal como o senhor de colônias.
A defesa dessa lógica colonialista, que criava uma instituição da metrópole para garantir a unidade e o legado português foi chamada de “lusotropicalismo”. Gilberto Freyre, intelectual brasileiro e autor de Casa Grande & Senzalae de outras obras, foi um dos maiores defensores dessa ideia. Também é de Freyre um livro que sintetiza bem esse momento essa manutenção colonialista português: O Mundo que o Português Criou(1940), cujo título já expressa esse pensamento.
Fundar uma instituição centralizadora para fazer valer um “mundo lusófono” ainda tinha o objetivo de produzir e reforçar a história oficial, de uma narrativa sobre a farsa de uma doce colonização, das trevas encontradas no “novo mundo” e que foram iluminadas pelos portugueses, da voluntária colaboração dos índios, negros e mestiços para com o projeto de civilização, da missão salvacionista, da “harmonia entre os povos”.
Era obrigação dessa entidade, que produzia a ideia de “mundo lusófono”, reunir as ex-colônias portuguesas e reencenar o mito do paraíso dos trópicos, do mundo descoberto, da missão civilizadora, da natureza, da mistura de raças. É nesse contexto que a língua foi imaginada, isto é, como uma conexão espiritual, um legado e um patrimônio comum, uma identidade.
O português tem centralidade na Declaração Constitutiva da CPLP, como um “meio privilegiado de difusão da criação cultural entre os povos que a falam e de projeção internacional dos valores culturais, numa perspectiva aberta e universalista”. Garante esse documento que o idioma é “instrumento de comunicação e de trabalho nas organizações internacionais e permite a cada um dos países, no contexto regional próprio, ser o intérprete de interesses e aspirações que a todos são comuns” (CPLP, 1996).
Na verdade, a ideologia lusotropical, abraçada e difundida pelas ditaduras portuguesa e brasileira, buscava produzir uma narrativa que apagasse referências à dominação europeia, os saques, as barbáries escravagistas e outras violências. Lourdes Macedo, Moisés Martins e Rosa Cabecinhas (2011, p. 125) lembram que o uso da língua portuguesa se constituiu em “um exercício de expressão de poder em busca da afirmação de uma identidade nacional, transnacional ou até mesmo global”. Por isso, as ex-colônias, mesmo quando independentes, tiveram suas elites usando a língua portuguesa como ação de poder, mantendo a mesma lógica colonial.
O fato é que a língua imposta, como o falar do invasor, estava carregada de ordem e de violência, e essa língua era a portuguesa. Relembremos que o Marquês de Pombal, em 1757, proibiu nas colônias outro falar que não fosse à língua de Camões. José Luiz Fiorin (2006, p. 26) diz que o Governo Português considerava que a obrigatoriedade do idioma um dos “meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade de seus antigos costumes”, ou seja, é como a língua portuguesa, branca e pura, limpasse os negros de África e de América.
A questão central é: como construir uma comunidade em que a identidade que nos une, o comum entre nós, tem essa marca de violência histórica? Alguns apressados teriam uma resposta pronta, mas essa não é uma questão simples, porque ela não tem um único ângulo de resposta. Por exemplo, muitos dos processos de resistência a essa mesma dominação em África, no Brasil, na Ásia ocorreram também na língua portuguesa, em uma espécie de feitiço que se vira contra o feiticeiro.
Vejamos outros casos: o Timor Leste, ao ser abandonado por Portugal em 1975, logo foi invadido pela Indonésia e voltou à condição de colônia. A língua portuguesa, a do antigo colonizador europeu, foi usada por muitos timorenses na luta pela nova independência e como meio de identidade da nova nação (Sodré, 1999, p. 49). Em Macau, em Goa, na Galiza, o falar em português ou algo aproximado a ele pode ser entendido como uma estratégia identitária e também de resistência.
Assim, ao tratarmos da língua é preciso reconhecer seu caráter vivo e incontrolável, o que impossibilita pensar na existência de uma unidade, seja em um país seja em uma comunidade diversa e complexa como é a da CPLP. No caso da língua portuguesa, esse processo transformativo é radicalizado por inúmeras variantes da África, da Ásia e da América, em razão das profundas raízes a sustentar frondosos trocos históricos entre seus povos.
Se a colonização produziu, de fato, uma profunda hibridização social, seu resultado é o entrelaçamento de várias culturas e, nelas, de outras línguas, extremamente ricas, para além do português. Por isso, José Saramago afirma que não existe uma língua portuguesa, mas línguas em português. Sabemos que nos países africanos ex-colônias lusas, o português não é majoritário, e divide o espaço com inúmeras línguas locais. No Brasil, o português é outro, que é diferente dos países africanos e do Timor-Leste, inclusive na ortografia, o que tem sido objeto de tentativas fracassadas de unificação.
As considerações sobre a importância estratégica da língua portuguesa e os processos de constituição da CPLP remetem-nos, obrigatoriamente, à ideia complexa de “lusofonia”. Para Alfredo Margarido (2000, p. 12), ela seria uma forma “particular de circular pelo mundo”, isto é, em uma perspectiva mais positiva aos falantes. Contudo, entende Eduardo Lourenço (2001) é de que a lusofonia seria parte de uma ilusão que Portugal busca manter, uma certa nostalgia imperial, uma forma que os portugueses inventaram para não se sentissem sós no mundo, mantendo um imaginário controle das ex-colônias.
Independentemente do ângulo que se enxergue, a ideia de lusofonia pode abrir uma série de portas e janelas interpretativas, mas, também, fechá-las. Optamos pela abertura, mesmo reconhecendo que a raiz etimológica – luso – remete a Portugal e à província do ano 29 a.C., a Lusitânia. Ter esse ponto de partida, uma gênese portuguesa, não deve enrijecer o seu percurso e nem se fechar em si.
Apesar das tensões em torno da lusofonia e que ocorrem no campo da linguística, sugerimos que ela deve ser pensada além dele, sendo percebida como ação política dos povos. E isso exige negociações, a compreensão dos jogos de poder, o que impossibilita pensar em uma unidade linguística em torno de 250 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo a falar em português. Ao contrário dessa ilusória homogeneização, a lusofonia pode ser a celebração da diversidade em razão do processo histórico entrelaçado entre os povos da comunidade. Por isso, sempre temos defendido usar a expressão “lusofonias”, no plural. Muito bem analisa Moisés de Lemos Martins (2015): a lusofonia não pode ser “pátria” porque não se pode vê-la como espaço de poder e autoridade, mas, quem sabe, como uma “mátria” e também uma “frátria”, o espaço de iguais em razão da mesma origem.
Reforçamos que as lusofonias são importantes tentativas da experiência para uma comunidade, a comunidade lusófona. A língua portuguesa é um elo visível para que essa comunidade emergisse. Entretanto, sugerimos que existem profundas e capilarizadas raízes históricas e constitutivas entre nós, e que vão muito além do idioma. A língua portuguesa não tem força narrativa suficiente para produzir o “comum” entre nós, para dar sentido a uma comunidade. O uso da língua exige outros elementos constitutivos de nós, principalmente, a percepção e o reconhecimento de nossos profundos vínculos históricos.
Na próxima semana, apresento um pequeno histórico das nações africanas e do Timor Leste que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A ideia é reascender os longos fios históricos que nos entrelaçam para constituir o que somos e, quem sabe, para ajudar a pensar em uma comunidade em trânsito, como a lusófona.
Referências
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Declaração Constitutiva, 1996. Disponível em <www.cplp.org/documentos_declaracao.asp>. Acesso em 21 jul. 2013.
Fiorin, J. L. (2006). A lusofonia como espaço linguístico. In: Bastos, N. B. (Org.). Língua portuguesa: reflexões lusófonas. São Paulo: Educ, p. 25-48.
Ilharco, A. & Murargy, M. (2014). 18 anos CPLP: os desafios do futuro. Lisboa: Ed. Sersilito.
Lourenço, E. (2001). A nau de Ícaro e a imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras.
Macedo, L., Martins, M. L. & Cabecinhas, R. (2011). Blogando a lusofonia: experiências em três países de língua oficial portuguesa. In Martins, M. L., Cabecinhas, R. & Macedo, L. (Eds). Lusofonia e Cultura-Mundo, IX Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. Braga: CECS e Grácio Editor, p. 121-142.
Margarido, A. (2000). A Lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
Martins, M. L. (2015), Lusofonia e Interculturalidade: promessa e travessia. Braga: UMinho e Húmus.
Sodré, M. (1999). Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes.