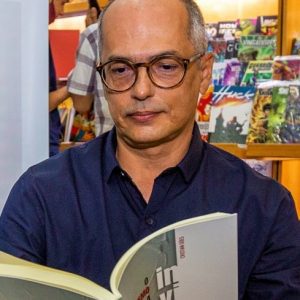Apesar da lusofonia ter uma certidão de nascimento europeia, na prática, ela se revelou, além de portuguesa, também angolana, cabo-verdiana, guineense, guinéu-equatoriana, moçambicana, sãotomense, brasileira, timorense, galega, indiana, etc. Por isso, sempre fazendo a defensa de que se trata de lusofonias, no plural. É essa condição espraiada, diversa e incontrolável que não permite sua homogeneização, o estabelecimento de um padrão fixo e limitado por fronteiras geográficas e identitárias.
Desse modo, um primeiro passo para que os povos lusófonos possam se constituir em communitas é não permitir que o vício de partida europeia e uma ilusória unidade linguística possam ser entendidos como a essência a justificar, por si só, uma comunidade. É preciso perceber e reconhecer que os países e as regiões atravessadas pela língua portuguesa se constituem um espaço privilegiado para a experiência comunitária, não em razão somente da língua, mas das histórias constitutivas e entrelaçadas entre nós, seus povos.
É essa qualidade histórica comum que nos impulsiona, obrigatoriamente, para uma reflexão sobre as obrigações, as dívidas e os deveres que temos entre todos nós. Em outras palavras, as atuais condições sociais, políticas, culturais, construídas historicamente, são como o combustível para que a comunidade dos países de língua portuguesa possa ser pensada e experimentada como communitas. Entretanto, volto a reforçar que, em razão da profunda diversidade que nos constitui, esse percurso pelas lusofonias precisa ultrapassar os limites do idioma e das fronteiras geográficas e identitárias.
Muito bem diz o ensaísta português Eduardo Lourenço (2001, p. 111) que “o imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o da pluralidade e da diferença e é através dessa evidência que nos cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a confraternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, cuja unidade utópica, no sentido da partilha comum, só pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério e profundo, assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença”.
Não custa relembrar que a ideia geral de uma lusofonia enquanto pensamento, modo de perceber e ser, e de institucionalização surge, sim, como uma forma de Portugal reforçar as suas ações imperiais junto às ainda colônias na África e na Ásia, e na ex-colônia brasileira. Afinal das contas, tínhamos um “mundo que o português criou” e essa ideia precisava de uma amarração de controle luso. Ou seja, a lusofonia nasceu, nesse aspecto, como imposição para dar um sentido ao mundo lusófono, e a língua sempre foi o “orgulho” para essa unidade forçada, o que jamais constitui comunidade.
Na prática, a exaltação ilusória de uma única língua como sua propriedade, em certa medida, dava roupas novas ao velho império, reatualizando a “missão civilizadora”. O Brasil foi fabricado aí, nessa narrativa colonial portuguesa como exemplo a justificar a manutenção dos controles neocoloniais. Com a apologia do “mundo lusófono”, do “mundo que o português criou”, Portugal buscava negar, na minha análise a partir da leitura do texto de Rosa Cabecinhas e Luís Cunha (2003, p. 166), a sua “pequenez europeia”.
A partir dos anos 1950, o projeto desse tipo de lusofonia ganhou outro tom. As colônias portuguesas na África passavam por intensas lutas de independência, que a narrativa oficial chamou de “guerras coloniais”. Portugal manteve o controle de suas áreas, mas alterou a retórica sobre essa dominação. “Em 1951 foram abolidas as designações de ‘império colonial’ e de ‘colônias’, até então utilizadas nos textos oficiais, sendo substituídas por ‘ultramar’ e ‘províncias ultramarinas’” (Cabecinhas & Cunha, 2003, p. 174). A ideia era retirar o peso da violência do império e passar uma sensação do “único Portugal” que unia o Minho, no Norte país até o Timor-Leste na Ásia.
Nos anos 1960, a ditadura portuguesa já se revelava anacrônica e os controles sobre as colônias africanas, ou como nomeava Portugal, as “províncias ultramarinas”, não estavam mais funcionando como antes. As lutas pelas independências foram intensificadas e resultaram em conquistas nos 15 anos seguintes. Entretanto, independentemente dos caminhos adotados pelas ex-colônias portuguesas na África, a ideia de uma lusofonia europeia, como um modo ideológico ensinado, já tinha deixado profundas raízes nos países dominados por conta da assimilação cultural. Mesmo lá, nos novos países, a lógica imperial se mantinha e buscava apagar o Outro, negro e pobre.
É por isso que muitas elites nacionais africanas que assumiram o comando dos países, depois das lutas pela independência, sentiam-se como se europeias fossem e mantiveram as lógicas identitárias de dominação. O idioma português nas novas nações se tornou a língua dos governos, dos negócios e não da maioria da população, em muitos casos, com resistência. O reflexo desse processo, do ponto de vista da comunidade dos países que falam em português na África, Ásia e no Brasil é um frágil ajuntamento, movido por algum esforço institucional e alimentado por uma ilusória unidade linguística.
A lusofonia oficial, nesse ponto, até ganhou algum um espaço no regime de visibilização para fornecer as bases imaginárias de uma comunidade. Todavia, grande parte da motivação para se recorrer à lusofonia gira em torno de uma espécie de festa literária, da linguística, de uma cultura que não ilumina bem as diversidades culturais de seus povos, principalmente as histórias entrecruzadas e constitutivas entre nós. Essa lusofonia do andar de cima desvia ou torna invisíveis as desigualdades sociais, econômicas, políticas, as dívidas ainda não quitadas entre nós, povos da CPLP. É aqui que a lusofonia se afasta das condições para uma experiência communitas.
Mesmo como assimiladas, as lusofonias nos países colonizados ficam aprisionadas, como um Outro afastado das fronteiras da civilização. “Enquanto aos portugueses são abertos todos os caminhos e diluídas todas as fronteiras, aos outros (os negros) é destinado um papel específico num lugar com fronteiras bem delimitadas” (Cabecinhas, 2002, p. 98). Assim, “a descolonização não estará completa enquanto perdurarem visões do mundo profundamente eurocêntricas” (Cabecinhas, 2002, p. 173). Também Maria Manuel Baptista (2006, p. 24) observa que a lusofonia assinala para Portugal “um lugar de ‘não reflexão’, de ‘não conhecimento’, e sobretudo de ‘não-reconhecimento’, quer de si próprio, quer do outro”.
De alguma forma, esse também é o entendimento de Lourenço ao criticar a utilização da lusofonia como a nostalgia imperial, o “mapa cor-de-rosa” de Portugal, em que todos os “impérios podem ser inscritos, invisíveis e até ridículos para quem nos vê de fora, mas brilhando para nós como uma chama no átrio da nossa alma” (Lourenço, 2001, p. 179). Esse autor admite até como natural que essa ficção lusófona se manifeste em Portugal, revelando uma busca simbólica “à procura de si mesmo através dos outros e dos outros através de si mesmo” (Lourenço, 2001, p. 111-112).
É preciso reconhecer os obstáculos em torno de uma lusofonia e que não permitem que avancemos para uma experiência communitas. Essas fronteiras erguidas nos mantêm apartados de nós mesmos, povos constituídos historicamente por identidades diversas e comuns. A língua portuguesa, centro da ideia da lusofonia, foi utilizada como argumento para a comunidade, mas também a limitou, configurando-se um problema. Entretanto, defendemos que a língua é mais potência do que problema para que possamos vivenciar uma communitas. Sobre esse aspecto, trato no próximo texto dessa coluna.
Referências
Baptista, M. M. (2006). A lusofonia não é um jardim ou da necessidade de perder o medo às realidades e aos mosquitos. In: Martins, M; Sousa, H. & Cabecinhas, R. (Eds.) Comunicação e Lusofonia: Para uma abordagem crítica da cultura e dos media. Porto: Campo das Letras. p.171-184.
Cabecinhas, R. (2002). Racismo e etnicidade em Portugal: uma análise psicossociológica da homogeneização das minorias. Braga. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – UMinho.
Cabecinhas, R. & Cunha, L. (2003). Colonialismo, identidade nacional e representações do “negro”. Revista Estudos do Século XX, v. 3, p. 157-184.
Lourenço, E. (2001). A nau de Ícaro e a imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras.