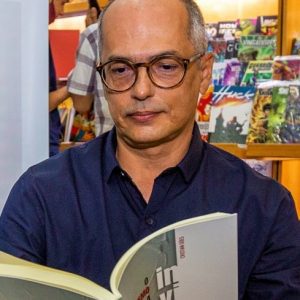No texto anterior dessa coluna, vimos o quanto o Brasil exerce uma condição de imunidade diante da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, comunidade que aquela nação é membro. Não há reconhecimento e nem associação ou vinculação. Na prática, não há qualquer sentimento de compromisso e muito menos qualquer sentido de dívida para com as lusofonias africanas. Esse quadro, porém, está amparado em outro aspecto fundamenta e de bases históricas e identitárias: a “colonialidade”, na expressão de Quijano (2009).
Na grande maioria dos registros que levantamos sobre a CPLP nos jornais O Globo e Folha de S.Paulo em 20 anos dessa comunidade emerge rastros que podem ser caracterizados como de colonialidade. Eles convocam os seus leitores para experimentar e confirmar uma lógica de mundo construída desde o Brasil Colônia em que a vida se divide entre superiores e mandatários, de um lado, e inferiores, servos, subordinados, de outro. Essa é uma formação ideológica que vem das expansões imperialistas do século XV, e que associa o europeu à condição moderna, à “raça branca”, à civilização, ao racional, e o Outro, ao bárbaro, primitivo, selvagem, índio, o negro, “raças de cor” (Quijano, 2009, p. 99).
Mesmo cinco séculos depois, a força dessa perversa trama ideológica é enorme e parece imperar em muitos espaços do cotidiano brasileiro. Esse modo de conceber o mundo e a vida entre superiores e inferiores “faz a cabeça do senhorio classista convencido de que orienta e civiliza seus serviçais, forçando-os a superar sua preguiça inata para viverem vidas mais fecundas e mais lucrativas. Faz, também, a cabeça dos oprimidos, que aprendem a ver a ordem social como sagrada e o seu papel nela prescrito de criaturas de Deus em provação, a caminho da vida eterna” (Ribeiro, 1995, p. 72).
Essa é a perspectiva que atravessa, com centralidade, a projeção em torno das identidades no Brasil e que, muitas vezes, foram e são expressas nas páginas dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo. Vejamos um exemplo da insistência dessa colonialidade entre nós em razão de nossa investigação sobre os primeiros 20 anos da CPLP.
Relembremos que O Globo, em 17/07/1997, trouxe uma notícia que lembrava o primeiro ano da CPLP. O enfoque era o medo da presença dos “africanos” entre Nós, em razão da ideia que se discutia em uma conferência da entidade a “livre circulação” nas nações de língua portuguesa. O jornal, porém, tranquilizava logo a sua audiência – parte expressiva da elite nacional e da classe média – ao garantir que os governos brasileiro e português não iriam permitir tamanha ousadia, ou seja, essa livre circulação em razão dos “africanos”.
A Folha de S.Paulo também lembrou do primeiro aniversário da CPLP. Em 15 de julho, esse jornal publicou uma curta notícia no final da página 4, junto com outras notícias locais (de São Paulo), mas com a temática de violência, polícia e criminalidade. Entre informações de homicídios, fraudes, fugas, estava o registro sobre o primeiro ano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e o título da notícia foi: “Africanos querem ter direitos iguais a portugueses no Brasil”. Percebeu?
Ao tratar de um imaginário de livre trânsito nessa comunidade, o jornal propõe uma reiterada experiência jornalística que ancora a ideia de mobilidade à editoria de crimes, violência, de forma que a CPLP divide o espaço com notícias sobre: “Garota é acusada de jogar bebê em bueiro”, “Homicídios caem 20% no final de semana”, “Três presos serram grades e escapam da sede da PF”, “Procuradoria denuncia 54 réus da lista do bicho”, “Menores conseguem arma e fogem da sede da Febem do Tatuapé”, (Folha, 15/07/1997, p. 4). A associação no jornal da CPLP com crime, violência, insegurança ocorreu várias vezes na Folha e em O Globo nos primeiros 20 anos da comunidade lusófona.
Lembremo-nos da rota do tráfico de drogas, dos registros de conflitos, da “cidadania lusófona”, entre outros “casos de polícia”. A notícia da Folha, em 15/07/1997, trata de uma reunião dos países da comunidade ocorrida em Salvador, Bahia, e o tema dominante, segundo o jornal, foi a mobilidade. A Folha afirma que “os africanos de língua portuguesa querem que o Brasil estenda a eles o mesmo direito de livre circulação que é concedido aos portugueses”, que chegam às terras brasileiras sem visto de entrada prévio nos consulados.
Esse jornal lida com esse tema como caso de polícia em razão do fato dos “africanos” dessa mesma comunidade pedirem ao Brasil “o mesmo direito de livre circulação” que tem os portugueses. Imediatamente, mesmo sem uma manifestação direta e oficial do governo brasileiro na notícia, a Folha, como se a resposta a esse pedido dos “africanos” fosse natural, responde com uma indicação clara para a própria resposta oficial do Brasil: “Governo brasileiro recebeu pedido com reservas” (Folha, 15/07/1997, p. 4). Essa informação tem força de manchete, aparece como frase de apoio, ficando acima do título da notícia.
Ainda no texto desse registro, o jornal assegura que esse direito de igualdade de tratamento aos portugueses, ao qual os africanos se referem, será negado pelo Governo do Brasil por conta do “perigo do tráfico de drogas”. Temos, aqui, um modo nítido de visibilização para a rejeição e o combate, ou no mínimo, para o controle e a disciplina. Na prática, a justificativa do jornal, sugerida ao governo brasileiro, revela a colonialidade e a condição racista de nossas relações sociais. O perigo em questão não é a droga, mas o Outro, negro e pobre, africano.
Não estamos diante somente de mais uma negação/apagamento que se pretende naturalizada ao direito de livre circulação e de equivalência aos portugueses no Brasil, mas, principalmente uma contínua violência que faz retomar as nossas heranças coloniais visíveis no regime de visibilização, com o objetivo de criminalizar os “africanos” no campo visível. No fundo, as ações permanentes dos jornais da elite brasileira e de uma parte da classe média nacional buscam tentar impedir o reconhecimento identitário das diversas lusofonias, especialmente a africana, entre Nós, ou nosso entre Eles, como comunidade.
Na próxima semana, vamos refletir sobre como os raros vestígios da lusofonia no Brasil são um forte indicativo para o apagamento da comunidade lusófona entre Nós.
REFERÊNCIAS
Quijano, A. (2009). Colonialidade do poder e classificação social. In: Sousa Santos, Boaventura de; Meneses, Maria Paula. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, p. 73-117.
Ribeiro, D. (1995). O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
Imagem de uso gratuito (kassoum_kone) em pixabay