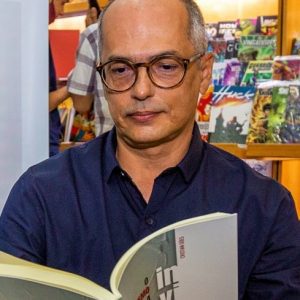Há possibilidade de se enxergar as lusofonias nos encobrindo como comunidade? Ou, com a globalização, rejeitamos nossas pertenças, combatemos as aproximações e, retoricamente, festejamos a comunidade apenas enquanto estiver distante de nós? Essas questões exigem aprofundar as ideias de globalização e comunidade, e pensar em um dos dilemas da lusofonia.
Ao tratar da globalização, Stuart Hall (2013) nos lembra que as nações modernas, de fato, jamais foram autônomas ou soberanas como se propagou. No centro delas estava a lógica capitalista: o livre trânsito do capital para além dos Estados. Ou seja, os países sempre foram atravessados por interesses privados que não enxergam fronteiras e lutam contra qualquer tipo de amarras à livre circulação financeira.
Esse processo, como vimos, tem suas bases históricas nas expansões colonialistas europeias no século XV e, nelas fabricou-se a existência do Outro, do não civilizado, do inumano, do selvagem do “novo mundo”, aquele que, com seu “comportamento se desvia abissalmente das normas da fé e do mercado”, como diz Boaventura de Sousa Santos (1994, p. 35).
Com o avanço do capitalismo, o Outro ficou confinado em comunidades, espaços fabulados como primitivos, localizados, pobres e selvagens. Sobre elas são impostas violentas fronteiras e regras que têm um nítido objetivo: manter o Outro aprisionado lá. As comunidades locais estão, assim, em oposição à comunidade global, que é imaginada a partir dos interesses econômicos, da livre circulação do capital.
A globalização parece ser o deslocamento de um sentido único: das metrópoles para as colônias ou ex-colônias, dos centros para as periferias. Assim, o Outro e o espaço em que habita, a comunidade, são fabricados como “bandos, tribos, hordas, que não se coadunam, nem com a subjetividade estatal, nem com a subjetividade individual”, novamente dos dizeres de Sousa Santos (1994, p. 35).
Temos, desse modo, a comunidade sobre duas perspectivas distintas: uma imaginada e festejada como global, moderna, tecnológica, sem fronteiras, que até rejeita o termo “comunidade” em razão dele apresentar alguma delimitação. A outra comunidade é a primitiva, local, hostil, distante, objeto de controle externo a não permitir mobilidade. Ela tem até visibilização, mas para que seja sempre antagônica à global.
Para Zygmunt Bauman (2003, p. 54), a proposta de comunidade das “elites globais” é de um “cosmopolitismo seletivo”, que celebra um estilo de vida estético e distante dos nacionais, fixados em seus locais de nascimento. O que impera para a elite global é o triunfo do indivíduo contra qualquer princípio coletivo, a subordinação do público ao privado. Isso implica o combate à ideia de comunidade, lugar associado aos apelos primitivos, ao atraso, à pobreza, ao perigo, a “filosofia dos fracos”.
Para reforçar: na ótica globalizada, o Outro a ser rejeitado e eliminado é o sujeito e a sua comunidade, o reduto das diferenças que ameaça a suposta segurança global dos interesses do capital. Em resumo, somos mobilizados nesse sentido, de um imaginário de um mundo moderno, sem fronteiras, ao alcance das mãos. Todavia, isso é fabricado a partir da narrativa sobre o Outro, perigoso, pobre, atrasado, doente, preso em comunidades localizadas.
A questão central é que a fantasia da globalização não elimina o Outro. O resultado-efeito da fabulação do mundo único, sem fronteiras, tem feito emergir no cotidiano, cada vez mais visível, a diferença que é incômoda às elites. O incrível é perceber que o Outro não está apenas longe e confinado, mas emerge em todos os cantos, fora e dentro dos países do centro do capitalismo. A radicalização do global produziu uma inevitável mobilidade à força daqueles que as elites não suportam a existência.
Por isso, tomemos a ideia de Anthony Giddens (2002, p. 27): a globalização deve ser compreendida como a “interseção entre presença e ausência, ao entrelaçamento de eventos e relações sociais ‘a distância’ com contextualidades locais”. Ou seja, há uma “dialética do local e do global”, processo que, por um lado, passa a sensação de unificação planetária e, por outro, joga luzes para particularidades muito localizadas. A globalização tem, ao mesmo tempo, características unificadoras e desagregadoras.
Assim, ao mesmo tempo em que a lógica global esfacela as formas nacionais, comunitárias, apagando pertenças e criando o cidadão do mundo, ela também acaba por reforçar as identidades locais, ligadas à ideia de pátria. Muito bem alerta Hall (2013) que as identidades que emergem nos países podem ser uma reação à globalização, mas não há uma garantia do retorno das antigas tradições perdidas ou que foram abandonadas na Modernidade. O que tem surgido são outras formas de pertença e de diferença que podem ser – e geralmente são – mais radicalizadas em relação ao Outro.
Independentemente das incongruências da dialética local/global, o Outro se mantém. Nos pressupostos da globalização, a diferença é o entrave, o prejuízo financeiro, a comunidade pobre e atrasada. Na lógica do retorno às identidades nacionais, o Outro é resultado da globalização, e também pobre, perigoso, terrorista, amoral, que atrapalha o desenvolvimento da nação e, portanto, deve ser eliminado. Esse Outro, diz Milton Santos (2000, p. 30), “seja ele empresa, instituição ou indivíduo, aparece como um obstáculo à realização dos fins de cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado uma coisa”.
Um detalhe importante é que na globalização o Outro descapitalizado tem importância, mas apenas para confirmar o valor do capital e a superioridade civilizacional das elites. Existe ainda a possibilidade do Outro exercer uma fascinação, em uma espécie de “mercantilização da etnia e da alteridade”, como diz Hall (2013). Não é sem propósito que a lógica global conserva intocados certos tipos identitários em locais distantes, como coisas exóticas e turísticas, alvos de um contato que somente ocorre lá, onde estão e não ameaçam.
E as relações multiculturais não existiram na contemporaneidade? Não se tem um mundo cada vez mais misturado e complexo? Sim, mas é necessário um olhar crítico para ao uso irrefletido de termos como o multiculturalismo. Recorrer a essa ideia arbitrariamente ajuda apenas a reconhecer e fixar o Outro como a diferença, e festejar a sua presença apenas como objeto exótico, como possibilidade turística e comercializável, conformando, assim, a própria cultura do capital.
Utilizar o multiculturalismo nessas condições é uma estratégia que desenvolve uma “tolerância liberal” e hierarquiza as supostas diferenças culturais. Lembremos que é a retórica identitária que fabula o Outro como a inferioridade inata e violenta, e isso se mantém com a ideia acrítica do multiculturalismo, tratando-se cinicamente de “representação aparentemente compassiva das condições humanas brutalmente desiguais como um direito inalienável de toda comunidade à sua forma preferida de viver”, como diz Bauman (2003, p. 98). Ou seja, é como se o Outro fosse natural, um voluntário que optou pela sua própria exclusão e que acha culturalmente bela a miséria em que vive.
Diante disso, onde está a comunidade lusófona na globalização? Como as lusofonias são vistas na lógica do mundo global? Entre nós, membros de um mesmo conjunto de povos de língua portuguesa, como nos enxergamos nesse globo, nessa comunidade? Ou não somos uma comunidade? Existem fronteiras internas na comunidade? Há possibilidade de separar do “nós mesmos” um Outro dentro de uma mesma comunidade?
Existem vários ângulos de respostas para essas questões, mas sugiro pensar e problematizar um deles: a mobilidade entre povos de uma mesma comunidade. Esse é o tema central do texto na próxima semana.
Referências
Bauman, Z. (2003). Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora.
Giddens, A. (2002). Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Hall, S. (2013). Da diáspora: identidades e mediações culturais. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Santos, M. (2000). Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 2. ed. Rio de Janeiro: Record.
Sousa Santos, B de (1994). Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. Revista Tempo Social; Sociologia USP, S. Paulo, 5 (1-2), pp. 31-52.