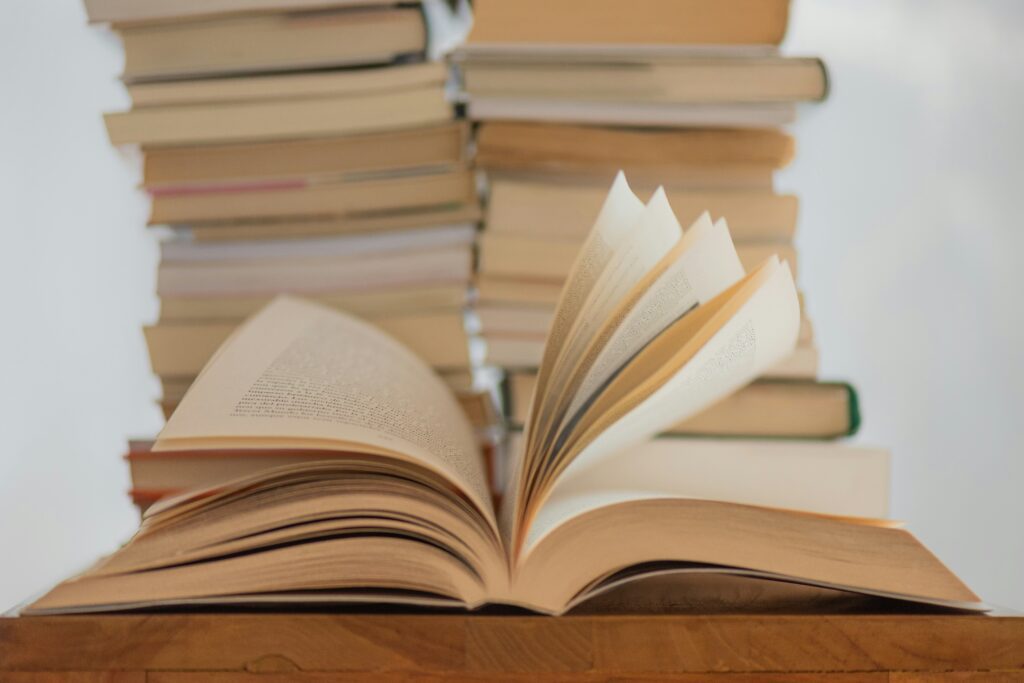RESUMO
“Pensar é difícil. Por isso, a maioria prefere julgar.” — Carl Gustav Jung
Num tempo marcado pela velocidade da informação, pela polarização ideológica e pela influência dos algoritmos, o pensamento crítico tornou-se não só uma competência essencial — mas também uma urgência democrática. Este artigo analisa o declínio da reflexão profunda nos ambientes educativos, mediáticos e sociais, defendendo que a superficialidade digital, o imediatismo emocional e a desinformação estão a comprometer a capacidade dos cidadãos de pensar de forma autónoma e ética. A partir de literatura científica atual, propõe-se a revitalização do pensamento crítico como eixo estruturante da educação contemporânea e pilar da cidadania ativa.
Palavras-chave
Pensamento crítico, educação, superficialidade digital, desinformação, democracia, literacia mediática, algoritmos, pedagogia, ética, autonomia intelectual.
INTRODUÇÃO
“O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do saber.” — Stephen Hawking
Vivemos numa era de paradoxos: nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca estivemos tão vulneráveis à manipulação. Redes sociais, motores de busca e conteúdos instantâneos moldam a perceção da realidade com base em velocidade, emoção e reforço algorítmico (Santos & Figueiredo, 2024). Neste cenário, o pensamento crítico — entendido como a capacidade de analisar, avaliar, argumentar e decidir com base em critérios racionais e éticos — encontra-se sob ameaça. Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre o seu papel no século XXI, identificando causas para a sua erosão e caminhos possíveis para a sua revitalização.
REVISÃO DA LITERATURA
O pensamento crítico, segundo Ennis (2025), envolve “processos metacognitivos que permitem discernir entre evidência e opinião, entre argumentos válidos e falácias, entre informação e manipulação”. No entanto, diversos estudos apontam para o declínio da sua prática nos contextos educativos e sociais.
A superficialidade digital, descrita por Carr (2024) como “leitura em zapping”, inibe a atenção profunda e a construção de raciocínios complexos. Esta leitura fragmentada, típica da navegação em redes sociais, reduz a capacidade de confronto de ideias e promove a adesão a opiniões prontas (Marques & Gouveia, 2025).
Segundo a OCDE (2025), menos de 35% dos jovens europeus demonstram competências de literacia crítica em contextos digitais. Em Portugal, estudos de Costa e Ribeiro (2024) indicam que os alunos do ensino secundário sentem dificuldades em distinguir fontes confiáveis de conteúdos manipulativos — problema acentuado pela ausência de uma pedagogia ativa centrada na argumentação.
Adicionalmente, autores como Paul & Elder (2024) alertam para a erosão ética do pensamento: pensar criticamente não é apenas raciocinar com lógica, mas fazê-lo com responsabilidade, empatia e abertura ao outro.
DISCUSSÃO
A crise do pensamento crítico é uma crise civilizacional. Sem pensamento crítico, a democracia transforma-se num espetáculo de opiniões sem base, e a educação limita-se à memorização de conteúdos (Freire, 2024).
Plataformas como TikTok ou Instagram promovem conteúdos rápidos e altamente emocionalizados, dificultando a maturação do pensamento e favorecendo a cultura do imediatismo (Barreto & Oliveira, 2025). Esta lógica interfere não só na aprendizagem, mas também na formação do caráter cívico.
Por outro lado, a responsabilização não pode recair apenas sobre a tecnologia. As escolas, universidades e meios de comunicação têm falhado em formar cidadãos capazes de interpretar, desconstruir e problematizar discursos. O pensamento crítico deve ser ensinado, praticado e valorizado, e não visto como um luxo filosófico.
A boa notícia é que pensar criticamente pode ser aprendido. Iniciativas pedagógicas baseadas em debate, resolução de problemas, análise de dilemas éticos e mediação de conflitos têm mostrado bons resultados (Silva & Matos, 2025). Urge integrá-las sistematicamente nos currículos, desde o ensino básico até à formação contínua.
CONCLUSÃO
“A função da educação é ensinar a pensar intensamente e a pensar criticamente. Inteligência mais caráter — este é o verdadeiro objetivo da educação.” — Martin Luther King Jr.
O pensamento crítico não é um privilégio das elites académicas — é uma ferramenta de emancipação coletiva. Num mundo onde as fake news se espalham mais rápido que os factos, onde os algoritmos moldam a perceção e onde a polarização destrói o diálogo, pensar com profundidade é um ato de resistência.
Mais do que nunca, precisamos de uma educação que forme cidadãos capazes de questionar, discernir e construir argumentos com base na ética, na razão e no compromisso com a verdade. Sem isso, corremos o risco de viver numa sociedade tecnicamente avançada, mas intelectualmente fragilizada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barreto, M., & Oliveira, P. (2025). Cultura digital e pensamento rápido: desafios para a cognição crítica. Revista Educação & Tecnologia, 27(1), 51-69.
Carr, N. (2024). O que a internet está a fazer com os nossos cérebros: Superficiais. Lisboa: Temas e Debates.
Costa, L., & Ribeiro, C. (2024). Pensar em tempos de excesso: Literacia crítica entre adolescentes portugueses. Educação, Sociedade e Cultura, 45(1), 33-50.
Ennis, R. H. (2025). Critical Thinking: Theory, Practice, and Pedagogy. Educational Philosophy & Theory, 57(2), 87–102.
Freire, P. (2024). Pedagogia da Autonomia (Edição Comemorativa). São Paulo: Paz e Terra.
Marques, A., & Gouveia, J. (2025). A ilusão do saber: Formação docente e pensamento crítico no ensino secundário. Cadernos de Educação Crítica, 10(1), 23–41.
OCDE. (2025). Educating for the Future: Global Competencies and Critical Thinking. Paris: OECD Publishing.
Paul, R., & Elder, L. (2024). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life (3rd ed.). Pearson.
Santos, J., & Figueiredo, T. (2024). Pensar devagar no mundo rápido: Educação e resistência intelectual na era digital. Revista Lusófona de Educação, 58, 103–121.
Silva, D., & Matos, C. (2025). Debate estruturado como estratégia de promoção do pensamento crítico no ensino básico. Revista de Práticas Educativas, 19(2), 66–84.