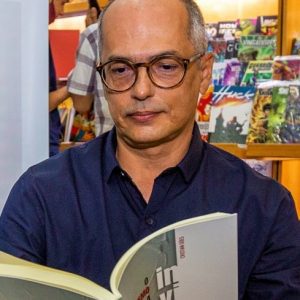No último texto dessa coluna fizemos uma sucinta apresentação com alguns lances das histórias dos povos que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A ideia foi reforçar o conhecimento sobre os longos e profundos fios que nos amarram uns aos outros, e de forma vital. Eles nos fazem compreender que nos constituímos como uma comunidade para além da língua. No texto de hoje, retomamos a busca da construção desse “lugar comum”, mas desta vez destacando ações que configuraram o nascimento da CPLP, e que remonta o período colonial, e as controvérsias desse percurso.
A questão a perseguir é seguinte: como se deram os laços políticos que nos amarram como comunidade lusófona e que resultaram na CPLP? Pontuamos aqui um acontecimento que faz pensar nesse processo de amarração institucional. Em 1825, três anos depois da independência, o Brasil foi obrigado a assinar com Portugal o Tratado de Paz e Aliança. Na prática, esse documento foi uma forma encontrada pela ex-metrópole para continuar mantendo a influência e os vínculos na ex-colônia na América do Sul, e de reforçar o domínio sobre as demais colônias portuguesas em África e Ásia.
Através do Tratado de Paz e Aliança, os portugueses reconheciam a independência do Brasil, mas obrigavam aquela nova nação ser aliada a Portugal. A imposição, a obrigatoriedade dessa aliança não era uma letra fria e promessa de atenção. Na prática, esse documento garantia que nas terras brasileiras os portugueses tivessem estatuto especial, um patamar superior aos demais viventes na ex-colônia. Além disso, o tratado proibia que o Brasil tivesse relações comerciais com as colônias portuguesas em África e Ásia.
Ocorre também que essa “paz” imposta por Portugal nesse tratado era ainda um instrumento econômico pactuado com a Inglaterra. Lembra-nos Leslie Bethell (2012, p. 136) que, em troca de reconhecer a independência brasileira, no acordo com os portugueses, a Inglaterra obrigou o Brasil a “pagar uma indenização a Portugal no montante de 2 milhões de libras esterlinas, sendo 1,4 milhão em empréstimos tomado a banco ingleses”. Ou seja, os vínculos não estavam limitados ao estatuto especial aos portugueses no Brasil, a proibição de contatos comerciais de Brasil com África, mas também a um vínculo de dívida que a nova nação assumia e que não possibilitaria desvencilhar-se das metrópoles (Portugal e Inglaterra) tão cedo.
Em fins do século XIX e começo do XX foram ampliadas as iniciativas para reforçar esses “laços de amizade” entre Brasil e Portugal. Em razão disso, revela Hélio Magalhães de Mendonça (2002, p. 12) que em maio de 1902, em uma conferência no Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, o intelectual brasileiro Silvio Romero chegou a propor a criação de “uma federação luso-brasileira, que podia constituir um bloco tanto cultural como militar”. Essa proposta era uma reação à união hispano-argentina na América do Sul. Entretanto, a ideia de Romero não vingou.
Em 1917, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Bettencourt Rodrigues defendeu a criação de uma Confederação Luso-Brasileira. A proposta também não foi adiante. Nas décadas de 30 e 40, especialmente no Brasil, prevaleciam muitas ideias de uma grande “civilização luso-tropical”, um mundo composto de Portugal, Brasil e das colônias portuguesas em África e Ásia. Esse movimento tinha o sopro inspirador da ditadura em Portugal e, no Brasil, intelectuais como Gilberto Freyre davam sedimentação a essa ideia e produziam livros e artigos festejando uma civilização lusófona. O luso-tropicalismo configurou-se em uma ideologia que ajudou a reforçar a ditadura implantada em Portugal nos anos 1930 e a manter o sistema colonial, principalmente em África.
Para celebrar “as glórias” coloniais, para “festejar” a “descoberta” e a “transformação” do Brasil em uma “grande nação”, a ditadura de Salazar realizou vários “eventos patrióticos”, com ampla visibilização. O objetivo dessa propaganda era tentar justificar que Portugal precisava se manter em África porque estava “civilizando” aqueles povos, a exemplo do que fizera, com sucesso, no Brasil. Mattoso (1998, p. 245-294) relaciona alguns desses grandes eventos patrióticos, e chamamos atenção para os nomes das “festas”: em 1943, I Exposição Colonial Portuguesa; em 1936, a I Conferência Econômica do Império Colonial Português e a Conferência de Alta Cultura Colonial; em 1937, o I Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo; e em 1940, a Grande Exposição do Mundo Português.
No Brasil, o presidente Getúlio Vargas renovou e atualizou o antigo Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal, que vinha do fim do século XIX, fazendo nascer, em 1953, o Tratado de Amizade e Consulta. Esse “novo” documento, na prática, reforçava o colonialismo português na África. O presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) manteve e até ampliou esse tratado, assinando outros acordos. Porém, com a eleição de Jânio Quadros (1960) e a implantação da chamada Política Externa Independente (PEI), as relações entre Brasil e Portugal ficaram estremecidas. Quadros externou interesses econômicos nos países africanos, ainda colônias portuguesas, o que contrariou a ditadura portuguesa.
Todavia, com o golpe e a ditadura civil-militar no Brasil, em 1964, as antigas relações com Portugal e com a sua ditadura foram retomadas. Os presidentes militares ditatoriais brasileiros que se sucederam no poder manifestaram o interesse de manter parcerias neocoloniais na África, mas com os portugueses sempre no comando. O Brasil, nessa tarefa, era força militar assessória, mas que deveria receber recompensas, a exemplo de áreas de petróleo. O ditador brasileiro Castelo Branco chegou a propor uma instituição que aglutinasse Portugal e Brasil para explorar ainda mais o continente africano, além das colônias lusófonas.
No entender de José Flávio Sombra Saraiva (1996), o que estava em jogo, desde Gilberto Freyre e se estendeu para depois, era a concepção de que o Brasil, em razão do mito da democracia racial e da força econômica que se anunciava, poderia servir de exemplo de sucesso para manter a exploração em África. Em outras palavras, tudo isso atualizava a “missão civilizatória”, mas agora não somente de Portugal, porque o Brasil se apresentava para participar desse mesmo processo. Essa movimentação brasileira em África, isto é, de desempenhar um papel neocolonial no continente-mãe, de superexploração de suas terras e das gentes, vai ser a tônica das relações entre Brasil e África até o final do Governo Fernando Henrique Cardoso, sendo alterada apenas em 2003 com a chegada do presidente Luís Inácio Lula da Silva.
A ditadura portuguesa se estendeu até 1974 e, antes terminar, Adriano Moreira, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, ainda chegou a realizar eventos com alguns representantes de países e das colônias portuguesas. Em 1964, ocorreu o I Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa, e em 1967, realizou-se o II Congresso, a bordo do navio Príncipe Perfeito, em Moçambique. Dessas ações surgiram a Academia Internacional de Cultura Portuguesa e a União das Comunidades de Cultura Portuguesa. Mesmo louvando-se o “império português”, esses encontros acabavam gestando sentimentos de reivindicações, queixas, pedidos de reparação pelos povos colonizados, o que contrariava a ditadura portuguesa. Por conta disso, o III Congresso que seria realizado no Brasil em 1969 não chegou a ocorrer.
A Revolução dos Cravos em Portugal, em abril de 1974, tinha entre suas pautas o fim da guerra colonial. Naquela altura eram intensos os movimentos e as lutas pela independência nas colônias em África e Ásia. Relembremos que, em outubro de 1968, a Guiné Equatorial tinha conquistado a liberdade. Em setembro de 1974, a Guiné-Bissau também deixou de ser colônia. No ano seguinte, em junho, foi Moçambique. Na sequência, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em julho de 1975. Angola ficou independente em novembro de 1975. Na Ásia, em dezembro de 1975, o Timor-Leste se libertou de Portugal, mas dias depois foi invadido pela Indonésia. Só em maio de 2002, depois de intensas lutas, o Timor reconquista a independência.
No início dos anos 1980, com nações africanas livres, mas extremante dependentes, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, realizou, sem sucesso, conversações para retomar a ideia de “união lusófona”. Em 1986, foi criada, em Cabo Verde, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP). No Brasil, em 1988, o então ministro da Cultura, José Aparecido de Oliveira, viajou aos países lusófonos na tentativa de criar a comunidade, o que não aconteceu. No ano seguinte, em São Luís, no Maranhão, foi criado o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP). No início de 1994, Brasília sediou a reunião dos Ministros de Negócios Estrangeiros dos sete países de língua portuguesa, e ficou decidida a realização, ainda naquele ano, da conferência para implantar a CPLP, porém isso só ocorreu dois anos depois.
Parte do contexto internacional em que essa comunidade começa a ser institucionalizada estava marcado pela ideia de fim da guerra fria. Os países buscavam novas parcerias, principalmente comerciais. Havia uma convergência de ideias de que o mundo se globalizava, uma globalização capitaneada pelos Estados Unidos e pelos países mais ricos da Europa. É aqui, nesse contexto, que nasce efetivamente a CPLP, em 17 de julho de 1996, em Lisboa, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Seis anos depois, em maio de 2002, Timor-Leste tornou-se membro da comunidade. E em 2014, a Guiné Equatorial também foi aceita, apesar de inúmeros protestos em razão de se constituir uma ditadura, como membro efetivo da CPLP.
Desse percurso que fizemos, talvez uma questão se mantenha: apesar da trajetória histórica, de acordos, desacordos, intenções coloniais e neocoloniais, uma comunidade institucional nasceu, a CPLP, mas temos, de fato, uma comunidade? Assim como a língua, os documentos, os estatutos, os protocolos de intenções nos constituem como comunidade? No próximo texto vamos avançar nessa discussão, trazendo algumas contradições e outros desafios para o reconhecimento de uma comunidade entre nós.
Referências
Bethell, L. (2012). O Brasil no mundo. In: Carvalho, J. M. A Construção Nacional 1830-1889. Vol. 2. Rio de Janeiro: Objetiva, p. 131-177.
Mattoso, J. (Org.). (1998). História de Portugal. Volume VII: O Estado Novo. Lisboa: Estampa.
Mendonça, H. M. (2002). O Brasil e a criação da CPLP. MRE, p.11-16. Disponível em <www.mre.gov.br/dc/temas/CPLP_Port_2.pdf>. Acesso em 16 mar. 2015.
Saraiva, J. F. S. (1996). O lugar da África: a dimensão atlântica da política externa brasileira (de 1946 a nossos dias). Brasília: Editora da UnB.