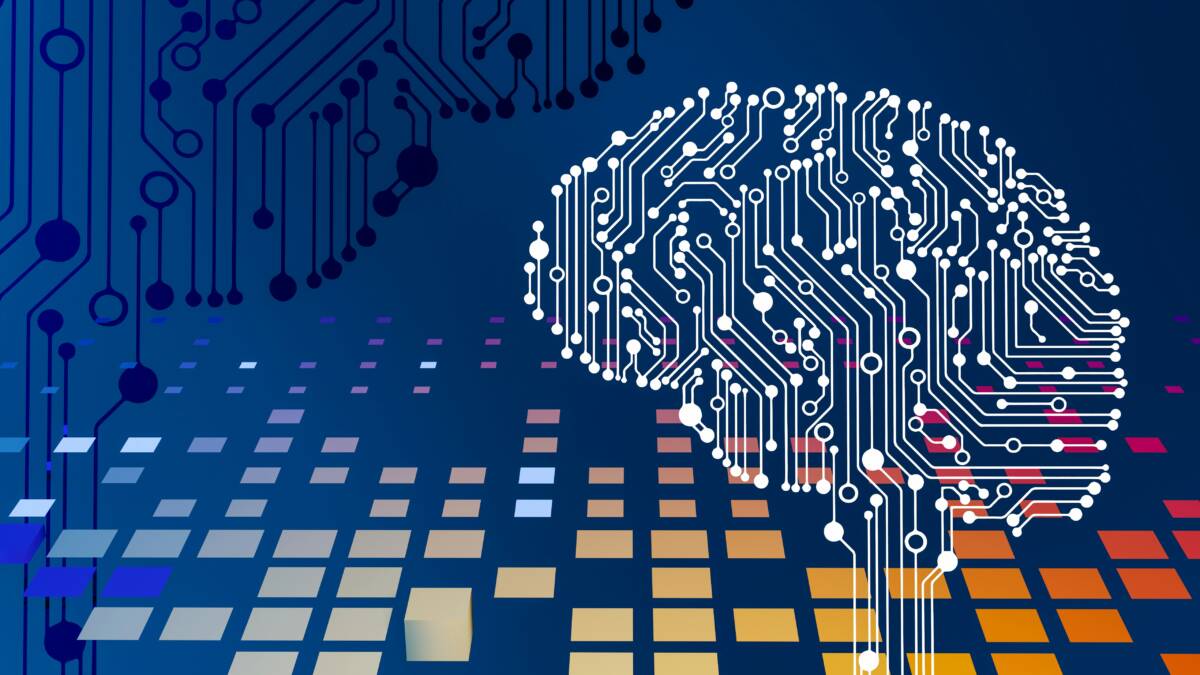Vivemos hoje uma encruzilhada civilizacional em que as fronteiras entre o biológico e o artificial, o humano e o técnico, o orgânico e o algorítmico tornam-se porosas. A emergência do que se pode chamar de Humanidade 3.0 não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma transformação ontológica. Trata-se de um estágio em que corpo, mente e ética são continuamente renegociados sob a influência de tecnologias inteligentes, plataformas algorítmicas e biotecnologias integradas. A hipótese que propõe-se aqui é que o humano não está sendo substituído por máquinas, mas interpelado por elas; e que, neste novo cenário híbrido, a essência do humano talvez resida justamente no que é eticamente irreproduzível: empatia, cuidado e consciência moral.
Luciano Floridi (2019), ao conceituar a “quarta revolução” da humanidade, descreve a infoesfera como um espaço ontológico no qual humanos, dados e sistemas artificiais coexistem. Esta coexistência não é neutra: ela transforma as formas de subjetividade, altera a noção de agência e problematiza o que entendemos por liberdade e responsabilidade. Ao contrário das revoluções anteriores, que redesenhavam o mundo físico ou social, esta apropria-se da própria cognição, da identidade e do conceito de verdade. Neste sentido, Santaella (2022) argumenta que estamos atravessando uma “sétima revolução cognitiva”, caracterizada pela fusão entre mente e máquina, onde a cognição humana deixa de ser autónoma para tornar-se distribuída entre redes neurais biológicas e artificiais.
O pós-humanismo, longe de restringir-se à especulação teórica, manifesta-se em práticas concretas: desde o uso de dispositivos vestíveis e implantes neurais, até a manipulação genética e a produção de avatares digitais. Neves (2022) observa que o pós-humano não deve ser compreendido como algo distante ou futurista, mas como uma condição atual e incorporada. A subjetividade humana já é constituída, em grande parte, pela mediação de inteligências artificiais que organizam, filtram e classificam experiências — seja em redes sociais, aplicativos de saúde, ambientes educacionais ou no uso cotidiano de assistentes virtuais. Isto exige uma reconceituação do que significa “ser humano”.
Contudo, a sofisticação algorítmica não resolve a ausência fundamental de senso comum nas IAs atuais. Henry Levesque (2017), em sua obra sobre o raciocínio baseado em senso comum, aponta que os sistemas de IA são eficazes na execução de tarefas bem definidas, mas incapazes de operar com a ambiguidade do mundo real. Levesque e Brachman (2023) reforçam que mesmo as IAs mais avançadas falham ao interpretar situações simples, como um jantar informal ou um gesto ambíguo, justamente porque não possuem conhecimento tácito, empatia ou entendimento situacional — competências que não podem ser reduzidas a estatísticas ou redes profundas. A ausência de senso comum não é apenas uma limitação técnica, mas uma lacuna ética e afetiva.
Esta lacuna torna-se especialmente crítica quando a IA é aplicada em contextos de cuidado, como saúde, educação ou justiça. Virginia Dignum (2019) defende que uma IA verdadeiramente responsável deve incorporar valores sociais e não apenas métricas de desempenho técnico. Para tanto, é necessário repensar o próprio processo de design das tecnologias, incorporando ética desde o início e não como um complemento posterior. O cuidado, como dimensão ética radicalmente humana, implica presença, escuta e vulnerabilidade — características que as máquinas, por mais avançadas que sejam, não podem simular de forma genuína. Esta posição é corroborada por Godinho (2024), que afirma que a tecnociência pode mediar o cuidado, mas nunca substituí-lo. A simulação algorítmica do afeto, embora sofisticada, permanece mimética.
Zuboff (2024) amplia esta crítica ao denunciar o que chama de “colonização do futuro” promovida por plataformas digitais. Sistemas preditivos baseados em big data não apenas antecipam comportamentos, mas moldam expectativas e restringem possibilidades. A lógica algorítmica transforma o sujeito em um objeto de cálculo, gerando um tipo de gestão automatizada que compromete a autonomia. Como destaca Vieira (2023), esta nova forma de poder exige um arcabouço normativo que garanta a dignidade ontológica e os direitos fundamentais, colocando a liberdade como centro de uma nova bioética digital.
Neste novo cenário, a identidade híbrida emerge como a condição antropológica do século XXI. O humano já não é apenas biológico ou racional, mas técnico, interativo, conectado. Julio Constantino Maciel (2024) explora esta dimensão a partir da arte cibernética, mostrando como a estética dos corpos-ciborgues revela novos modos de relação entre sujeito, tecnologia e público. Da mesma forma, Morais (2025) propõe uma leitura do transumanismo que distingue os seus aspetos técnicos de desdobramentos filosóficos: enquanto o primeiro visa ao melhoramento humano, o segundo impõe a necessidade de pensar nos limites do humano e do valor do imperfeito. A estética da vulnerabilidade, neste sentido, torna-se resistência à lógica da perfeição algorítmica.
Na perspetiva de Camargo (2023), a imaginação e a empatia ainda constituem os pilares de uma justiça humanizada. Ao analisar o uso de IA em sistemas judiciais, o autor argumenta que o pensamento ético não pode ser automatizado, pois depende de julgamento contextual, valores históricos e escuta ativa. Esta crítica reforça a ideia de que o “bom senso” é mais do que uma heurística; é um componente irredutível da ação moral. Tal argumento dialoga com Braga e Chaves (2019), que apontam para a dimensão metafísica da inteligência artificial: se a IA é incapaz de erro genuíno ou arrependimento, ela também é incapaz de assumir responsabilidade no sentido pleno.
Outros autores, como Onuki (2021) e Chenoll & Seara (2025), discutem o papel das humanidades na formulação de novas éticas para uma sociedade tecnicamente mediada. Para eles, a técnica não é um mal em si, mas exige um ethos de cuidado, escuta e alteridade — qualidades que só podem emergir da convivência, do diálogo e da crítica. Lencastre e Estrada (2022), por sua vez, defendem um transumanismo “positivo”, em que a IA é guiada não pela maximização da eficiência, mas pela ampliação do bem-estar humano.
A questão central que emerge, portanto, não é se as máquinas serão mais inteligentes que os humanos, mas que tipo de humanidade desejamos preservar quando tudo pode ser automatizado. Como aponta Santaella (2022), o pós-humano não é o que vem depois do humano, mas aquilo que emerge quando decidimos o que queremos conservar diante do avanço técnico. Preservar a dúvida, o cuidado, o silêncio, o olhar — elementos que escapam à lógica da codificação — talvez seja o verdadeiro desafio ético do nosso tempo.
Conclui-se, assim, que a Humanidade 3.0 não marca o fim do humano, mas uma oportunidade radical de sua reinvenção. Em meio à proliferação de inteligências artificiais, o humano resiste não por sua superioridade cognitiva, mas por sua capacidade ética. A empatia, o cuidado e a escuta não são subprodutos da racionalidade, mas expressões daquilo que nos torna singulares. E é nesta singularidade que reside a fronteira última entre o algoritmo e o espírito.
Referências Bibliográficas
Braga, A. A., & Chaves, M. (2019). A dimensão metafísica da inteligência artificial. Revista Crítica de Ciências Sociais. https://journals.openedition.org/rccs/9150
Camargo, G. A. F. (2023). Justiça e inteligência artificial: algoritmos e resolução de conflitos. PUCRS. https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10973
Chenoll, A., & Seara, I. (2025). Humanidades: heranças e desafios. UAb. https://repositorioaberto.uab.pt
Constantino Maciel, J. C. (2024). Corpos-obras-ciborgues: modos de relação com o público. UNESPAR. https://ppgartes.unespar.edu.br
Dignum, V. (2019). Responsible Artificial Intelligence. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30371-4
Floridi, L. (2019). The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design. Oxford University Press.
Godinho, A. M. (2024). Transhumanismo e pós‑humanismo: a humanidade em seu limiar. Universidade de Coimbra. https://estudogeral.uc.pt
Levesque, H. J. (2017). Common Sense, the Turing Test, and the Quest for Real AI. MIT Press.
Levesque, H. J., & Brachman, R. J. (2023). Machines Like Us: Toward AI with Common Sense. MIT Press.
Lencastre, M. P. A., & Estrada, R. (2022). Compor mundos: humanidades, bem-estar e saúde no século XXI. Universidade Fernando Pessoa. https://bdigital.ufp.pt
Morais, C. S. (2025). Transumanismo e melhoramento genético: fundamentos, aplicações e críticas. UFC. https://repositorio.ufc.br
Neves, C. S. (2022). O problema do pós-humanismo na filosofia contemporânea. UFMG. https://repositorio.ufmg.br
Onuki, G. M. (2021). Das tecnologias do sensível à poiesis de um corpo. UTP. https://tede.utp.br
Santaella, L. (2022). Neo-humano: a sétima revolução cognitiva do sapiens. Estação das Letras e Cores.
Vieira, L. P. (2023). A regulação da superinteligência sob os direitos fundamentais. UNIFACS. https://unifacs.br
Zuboff, S. (2024). The Age of Surveillance Capitalism: A Retrospective Update. PublicAffairs. https://www.publicaffairsbooks.com